A muralha da vergonha: quando o privado devora o público em Pontal do Maracaípe
 Por Flávio Chaves – Jornalista, poeta, escritor e membro da Academia Pernambucana de Letras. Foi Delegado Federal/Minc – A praia do Pontal de Maracaípe, em Ipojuca, Pernambuco, tornou-se palco de um episódio que ultrapassa a esfera da irregularidade ambiental para se inscrever na história simbólica das distorções nacionais. Um muro, erguido com troncos de coqueiro sob a justificativa de conter o avanço do mar, avançou sobre uma faixa de domínio público, invadiu área de preservação e restringiu o acesso livre de moradores e visitantes. O laudo pericial da Justiça Federal é inequívoco quanto aos danos ambientais e à ilegalidade da obra. Mas o verdadeiro muro é outro: o que separa o poder econômico da consciência moral.
Por Flávio Chaves – Jornalista, poeta, escritor e membro da Academia Pernambucana de Letras. Foi Delegado Federal/Minc – A praia do Pontal de Maracaípe, em Ipojuca, Pernambuco, tornou-se palco de um episódio que ultrapassa a esfera da irregularidade ambiental para se inscrever na história simbólica das distorções nacionais. Um muro, erguido com troncos de coqueiro sob a justificativa de conter o avanço do mar, avançou sobre uma faixa de domínio público, invadiu área de preservação e restringiu o acesso livre de moradores e visitantes. O laudo pericial da Justiça Federal é inequívoco quanto aos danos ambientais e à ilegalidade da obra. Mas o verdadeiro muro é outro: o que separa o poder econômico da consciência moral.
O gesto de cravar troncos de coqueiros, a própria carne da paisagem tropical, na areia do litoral é, por si só, uma contradição moral e estética. A natureza foi usada contra si mesma. O mesmo coqueiro que dá sombra, alimento e abrigo ao povo tornou-se instrumento de exclusão. É o retrato fiel de um tempo em que o homem, movido pela ânsia de possuir, transforma o que é comum em fronteira e o que é natural em propriedade.
Alexis de Tocqueville advertiu que o maior risco das democracias é a tirania dos interesses, quando o desejo particular sobrepõe-se à razão pública. O muro de Maracaípe é a expressão física dessa advertência: uma barreira erguida em nome da segurança, mas sustentada pela conivência e pela omissão do poder público. A fronteira ali traçada é menos geográfica e mais moral, delimita o território onde termina o bem comum e começa o império do privilégio.
Thomas Hobbes, ao descrever o estado de natureza, dizia que o homem é o lobo do próprio homem. O Estado, portanto, nasce para domar essa selvageria. Mas quando o Estado é cúmplice, e não guardião, da desigualdade, ele devolve a sociedade ao estado primitivo de dominação, em que a força e a influência valem mais do que a lei. A muralha do Pontal é o retrato de um Leviatã cansado, que já não protege os fracos, apenas negocia com os fortes.
Simone Weil, uma das consciências mais puras do século XX, escreveu que o enraizamento é a necessidade mais profunda da alma humana. O muro de Maracaípe fere esse enraizamento ao afastar a comunidade do seu território simbólico e afetivo. A praia, que sempre foi espaço de convivência, torna-se território interditado. A alma do povo é desenraizada em nome de uma falsa contenção do mar.
Albert Camus lembrava que o mal começa quando o homem aceita a injustiça como parte natural da vida. As muralhas erguidas pelo egoísmo são construídas primeiro no espírito, depois na areia. O muro do Pontal nasceu antes na indiferença dos que o poderiam impedir. O concreto moral precede o físico. A madeira, ali, é apenas o instrumento visível da cegueira institucional.
Edgar Morin observa que a crise da civilização moderna é, acima de tudo, uma crise de complexidade: reduzimos o que é humano a esquemas simplificados, o coletivo ao interesse e o sagrado ao utilitário. O caso de Maracaípe mostra essa simplificação trágica. Uma praia, símbolo da liberdade e da comunhão, é transformada em mercadoria. O mar, metáfora universal da fluidez e da partilha, é fendido por um muro de madeira que pretende deter o que é indetenível: o direito natural de ir, vir e pertencer.
Zygmunt Bauman falava de um tempo líquido, em que os laços sociais se dissolvem e tudo se torna consumo. No Brasil, a liquidez se inverteu: os muros são sólidos, a ética é que se tornou líquida. Cada tronco fincado na areia é uma estaca da indiferença, um prego simbólico na ideia de república. O que se ergue ali não é apenas uma barreira física, mas uma forma de apartheid costeiro, um ensaio de privatização da natureza.
Santo Agostinho afirmou que sem justiça os reinos se convertem em bandos de saqueadores. O muro de Maracaípe é a parábola moderna dessa advertência: a apropriação disfarçada de defesa, a violência travestida de ordem. A justiça, quando hesita, torna-se cúmplice da injustiça que não combate.
A praia é o território mais democrático da Terra. O mar não reconhece castas, fortunas ou sobrenomes. Diante dele, todos somos iguais. Ao cercar o mar com troncos, o homem nega essa igualdade e reescreve a paisagem em seu próprio benefício. É a vitória efêmera do privilégio sobre a natureza e, sobretudo, sobre o espírito humano.
O muro de Maracaípe não será lembrado apenas como uma infração ambiental, mas como um sintoma moral do país que o permitiu. A luta pela sua derrubada é mais do que uma causa jurídica: é um ato de reconciliação entre o homem e o seu dever cívico. Enquanto a madeira estiver fincada na areia, o Brasil continuará dividido entre os que têm acesso e os que apenas contemplam o horizonte de longe.
O mar, porém, é paciente. Ele não se apressa, mas não esquece. As ondas voltam, e com elas a justiça natural das coisas. Porque nada, nem mesmo o poder, é mais eterno que o movimento do mar e a consciência desperta de um povo.
Share this content:



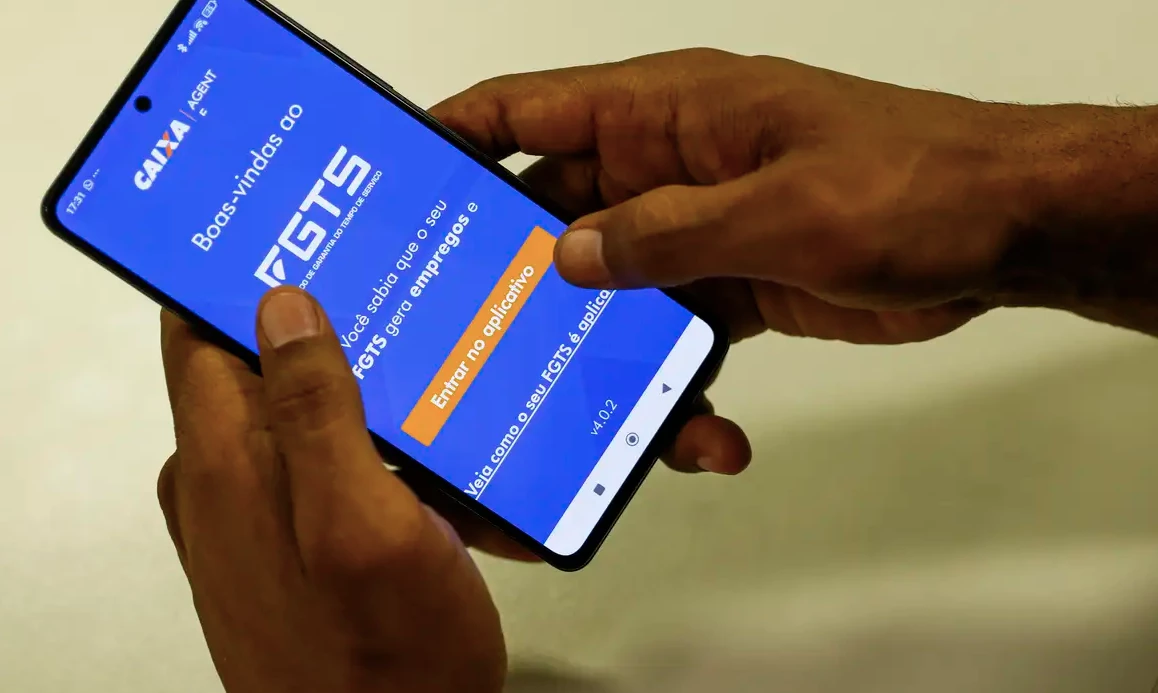










Publicar comentário